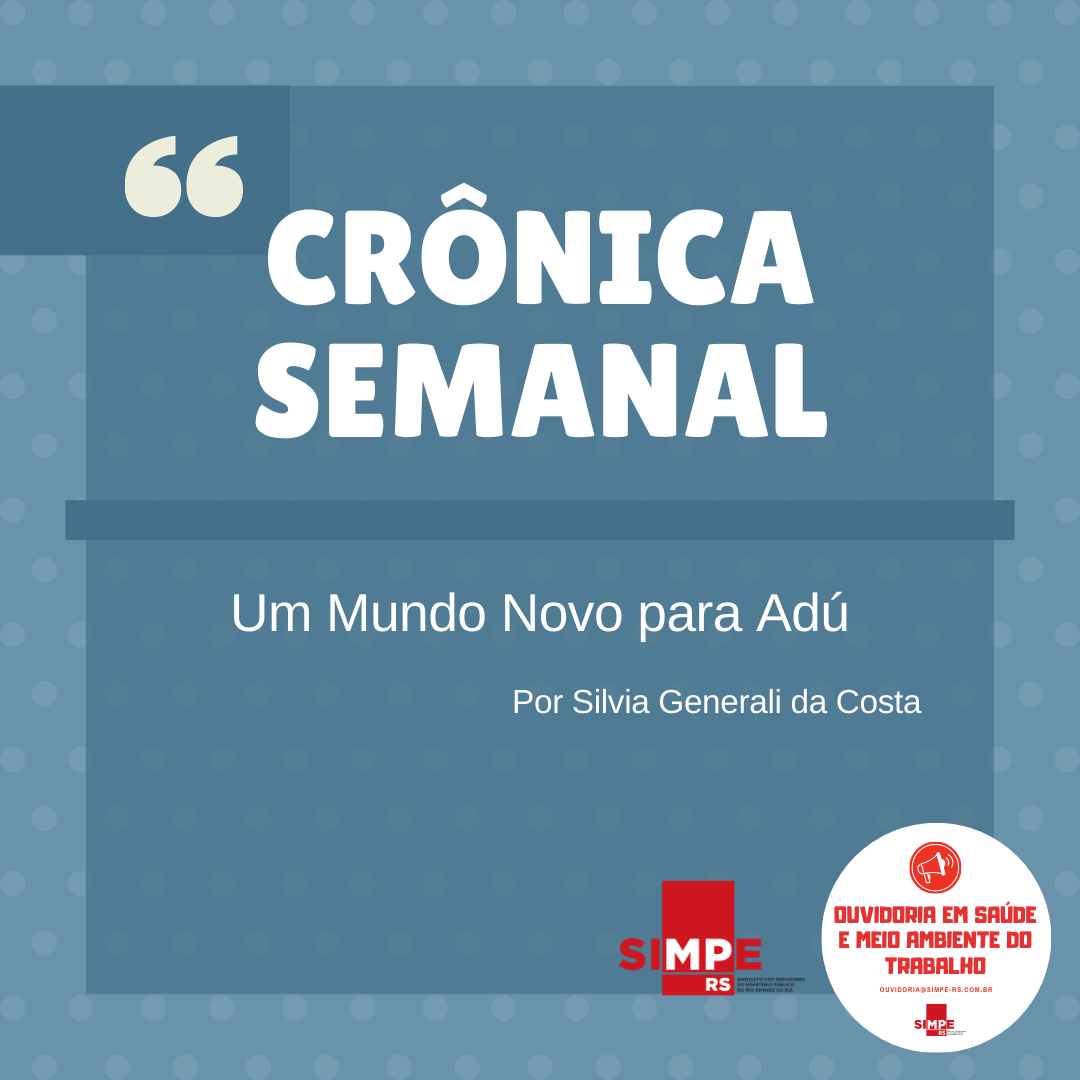Por Silvia Generali da Costa, psicóloga e assessoria em saúde do SIMPE-RS
Ontem assisti ADÚ, no Netflix. O filme aborda um drama social que se passa no extremo norte da África, próximo à Espanha. Com as histórias paralelas de um menino que foge da violência, um pai defensor dos elefantes que reencontra a filha atormentada por traumas, e de um policial consumido pela culpa após um infeliz episódio no trabalho, o filme vai mostrando os dramas sociais da África e a tentativa de muitos de transpor as barreiras que levam à Espanha e ao sonho de uma vida digna.
A história terrível e a excelente interpretação do elenco não nos autorizam a insensibilidade. O que mais dói ao espectador é saber que o argumento não se caracteriza como uma narrativa totalmente ficcional. Embora os personagens possam ter sido criados ou romanceados, o contexto no qual eles transitam é atual e verdadeiro.
Por que trago este filme, aparentemente tão distante, para nossa reflexão da semana? Porque há muitas resenhas, crônicas, livros apontando para um mundo melhor pós-pandemia de COVID-19. Muitos destes textos vêm carregados de esperanças de que seremos melhores como seres humanos. Voltaremos a abraçar nossos vizinhos, não nos cobraremos tanto, aprenderemos a relaxar, a conviver conosco, curtiremos infinitamente cada ida a um bar, um restaurante, uma praça. Tudo ótimo. Mas não podemos perder de vista que esta pandemia é, como o nome sugere, global. Se não atacarmos as causas globais para o surgimento destas transmissões de doenças em alta escala, a possibilidade de repetirmos o assustador número de mortes que estamos presenciando com o COVID-19 é muito alta.
Sou admiradora do economista Jeremy Rifkin desde que li, com apreensão, o livro O Fim dos Empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução da força global de trabalho (São Paulo: Makron Books, 1995). Como o próprio nome do livro sugere, há 25 anos Rifkin já alertava para a situação do trabalho em 2020: um grande número de trabalhadores em atividades precárias, uma pequena elite intelectual em trabalhos bem remunerados e valorizados, e uma enorme massa de desempregados.
A uberização, as longas jornadas em trabalhos sem qualquer garantia, a reforma trabalhista e os recentes protestos dos motoristas de IFood vieram a mostrar que Rifkin estava certo em suas previsões. O site de Notícias Economia UOL aponta que “já com ajustes sazonais, a taxa de desocupação, pela Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE, era de 12,1% no trimestre até abril. Segundo análise da equipe de macroeconomia do Itaú Unibanco, na verdade, o desemprego estaria em 16%, caso o volume de pessoas procurando trabalho tivesse se mantido no mesmo nível de antes do início da quarentena.”
Rifkin afirma, neste livro de 1995, que há uma relação estreita entre desemprego e violência, ensejando o crescimento de “gangs” urbanas a exigir seu lugar na sociedade, ainda que de forma torpe. Será que Rifkin estava prevendo o fortalecimento de milícias, do crime organizado e das gangs ligadas ao tráfico?
Em relação à pandemia, Rifkin afirmou – em recente entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos - que a atividade humana está na gênese da atual pandemia porque “alteramos o ciclo da água e o ecossistema que mantém o equilíbrio no planeta”.
Desequilíbrio ambiental, superexploração do trabalho, corrupção, Estado que não intervém quando necessário, tudo isto resulta em violência, deslocamento de grandes massas de desfavorecidos, infâncias perdidas, vidas encurtadas e famílias destroçadas – como fenômeno mundial.
Enquanto a Amazônia é ilegalmente desmatada, líderes indígenas assassinados, a água é tratada como fonte de lucro e não como bem público; enquanto temos a ilusão de ser possível afastar de nós todo o mal encarcerando os criminosos em presídios insalubres; enquanto pensarmos que “o problema da África deves ser resolvido pelos africanos” (como aparece na fala de um policial de fronteira no filme Adú); enquanto não enxergarmos o planeta de forma sistêmica e enquanto continuarmos nos vendo como “nós e eles” (ou os bons e os maus, os negros e os brancos, os ignorantes e os cultos), não podemos ter a esperança de que o mundo pós-COVID seja muito diferente. É preciso uma grande mudança estrutural e de valores, antes que a próxima pandemia nos atinja ainda com mais força.